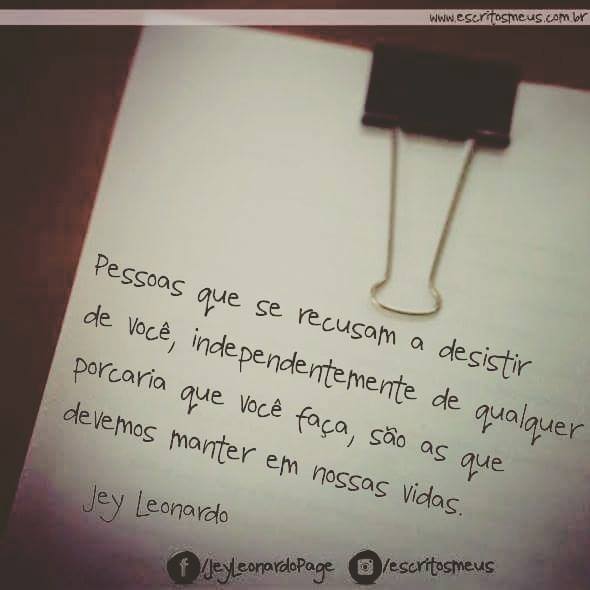II – O Diagnóstico
– O quê?…
– Eu disse: SENTA AÍ!
Sentei. Para. Pensa. Respira. Porra, cadê o ar? Ah, é! O ar. Foi isso. Falta de ar. Lembrei. Fui pra Santa Casa. Aliás, ESTOU na Santa Casa. E quem é essa mandona? A Marcela? Ah, é! Ela veio comigo. Ela estava no Jurídico. Também lembrei. Nah! É mesmo coisa de mulher esse negócio de se preocupar à toa!
Não demorou muito e já fui atendido (“pré-triagem”, eu diria), a médica fez as perguntas que tinha que fazer e – já esperava por isso – recomendou chapa do pulmão e checar o coração. Eu teria voltado para sala de espera se, ao levantar, ali mesmo, já não tivesse tropeçado na cadeira e me apoiado na parede – que, diga-se de passagem, em vez de sólida, ficava indo de lá para cá…
Nesse momento apareceu meu amigo Torquemada, que trabalha no local, e me ajudou a ir até a sala de raio-x. Também não demorou muito e fizeram as chapas (já devo estar ficando radioativo depois de tantos anos me chapeando no decorrer da vida) e o próximo passo seria o eletrocardiograma.
“Vem comigo”, me disse o Torquemada.
E esse “vem comigo” era para subir uma rampa digna da Escadaria da Penha. Mas, dada minha peculiar condição, em vez do habitual “nem fodendo”, que seria minha resposta tradicional, resolvi aceitar. Olhei pra cima, respirei fundo – e, lógico, não consegui respirar porra nenhuma – preparei-me para escalar aquilo bem passo a passo.
– Não, não, senta aqui.
Olhei pra trás. Uma cadeira de rodas e, como piloto, um gordinho com cara de preocupado, meio que avaliando o tamanho da rampa em comparação com o tamanho da besta que vos escreve.
– Cê tá me zoando…
– Não tô não. Trate de sentar aí, rapaz, que você não está bem.
Olhei novamente para a rampa, para a cadeira, para o gordinho, suspirei e cedi. Que seja. E uma vez que, Professor Xavier que me tornei, já estava acomodado na cadeira de rodas, não sem sofrimento o rapagote me levou até um quarto para o devido atendimento. Chegou suando e respirando fundo (que inveja!). Mesmo passado tanto tempo, ainda estou com dó dele. Provavelmente deve ter pedido o resto do dia de folga…
Uma vez acomodado na cama (ligeiramente menor que eu, como sempre), já sem calçados, pediram que abrisse a camisa para colocar os eletrodos.
– Xiiiii…
Não, esse não fui eu. Foi a enfermeira. Imaginem uma pessoa com o peito peludo. Não, não ela, eu (seus pervertidos…). Aquém de um Tony Ramos, mas além do considerado “normal”. Já tentou colar um pedaço de fita crepe na grama? É mais ou menos a mesma coisa que tentar colar eletrodos no meu peito.
– Melhor tirar a camisa. Aliás, o cinto também, pois o metal pode afetar o resultado. Aliás do aliás, vamos tirar as calças também. A senhora se incomoda?
A “senhora”, no caso, era a Marcela, ainda me acompanhando. Situação interessante, pois, na ausência do Torquemada, parece que as enfermeiras estavam achando que, enquanto acompanhante, seria minha esposa. Ela sorriu e até mesmo abriu a boca para responder, mas decidi que, do alto de toda minha educação, finesse e cavalheirismo que me é característico, aquele seria um bom momento para intervir, antes que se tornasse uma “opção”.
– FO. RA.
Rindo às pampas, ela saiu da sala.
Enfim, calças fora, com um pouco de custo, até que deu. Liga maquininha, cola eletrodo que descolou, mede, cola o outro que também descolou, imprime rapidamente antes que descole mais algum, chama o médico de plantão.
E analisando aquele monte de risquinhos, ele me veio com essa:
– Senhor Adauto, não é? Bem, antes de mais nada gostaria de saber se o senhor fez algum esforço físico fora do comum ou passou recentemente por alguma situação de estresse?
Esforço físico? Eu? Até para ir no boteco da esquina eu vou de carro que é para não cansar… Quanto ao estresse? Tenho oito anos de estresse praticamente diário, meu caro! Nem o Capitão Kirk aguentaria o que já passei! Só que não respondi nada disso.
– Hoje, em particular, não. Nada.
– O que o senhor teve aqui foi uma disfunção arterial coronária, caracterizada principalmente pela dor no peito e a dificuldade na respiração, o que claramente evidencia a ocorrência da assim chamada angina pectoris.
Eu sinceramente acho que os médicos fazem isso de propósito. Tudo bem que nós, advogados, muitas vezes passamos a falar “juridiquês” até mesmo se o perceber, mas o caboclo tá falando com um paciente, catzo! Não resisti:
– Doutor, em português, por favor.
– O senhor teve um pré-infarto.
– Hmmm…
– Ou seja, situações como esta são definidas por um protocolo médico e, segundo esse protocolo, o senhor vai ter que ficar por mais um tempinho internado em observação, ok? Passar bem.
E se foi.
Antes mesmo que eu pudesse perguntar qual seria a definição dele para “um tempinho”, olhei para o Torquemada. Seus olhos brilhavam de sacana satisfação…
– No mínimo pelas próximas 12 horas, você é meu! Huá, huá, huá, huá!!!
Engoli em seco.
Bem, como sempre digo, já que o inferno é inevitável, que se abrace o capeta.
Assim, o melhor naquele momento seria informar a situação para algumas poucas pessoas na devida ordem de importância e relevância.
Ou seja, primeiramente liguei pra minha Chefa.
Que, óbvio, sendo quem é, já sabia o que tinha acontecido, onde eu estava e até mesmo qual o diagnóstico. Levei a bronca (no bom sentido) que já sabia que ia levar, me avisou que o Torquemada iria confiscar meus telefones e que fosse descansar e me recuperar. E, sim, isso era uma ordem.
Bão, até agora tudo bem. Agora vinha a parte difícil.
Isso mesmo: ligar para a Dona Patroa.
– Oi? Mi? Tudo bem? Pode falar um minutinho? Então. Hoje quando eu estava vindo para o trabalho começou a me dar um pouco de falta de ar, de tontura e eu até achei que fosse por conta de um pouco de fome… Daí, chegando no Jurídico, comi alguma coisa, lavei o rosto e não melhorou – antes o contrário, comecei a ter um pouco de dor no peito, tipo uma pressão, sabe? Aproveitei que a Marcela estava por ali e fomos para a Santa Casa, onde cheguei totalmente sem ar, mas ainda assim consegui fazer a ficha, meio que desmaiei, mas já fui atendido em seguida, encaminhado para uma chapa de pulmão e em seguida para um eletrocardiograma. O diagnóstico foi que eu tive uma situação de pré-infarto – mas tá tudo bem! Pode ficar tranquila. Já fui medicado, só que o protocolo médico determina que vou ter que ficar aqui pelo menos pelas próximas 12 horas, então tô te ligando só pra você saber, ok?
Silêncio.
– Alô? Oi? Você ainda está aí?…
– QUEM. É. ESSA. MARCELA?
Meus deuses! Como é que vocês mulheres têm esse filtro auricular que faz com que ouçam só o que querem ouvir? A um certo custo expliquei novamente a situação, com calma e com detalhes, e desta vez parece que ela compreendeu. Eu acho.
Enfim, esclarecido o necessário, Torquemada deu aquela risadinha que só ele sabe dar e, com uma batidinha no meu ombro, já foi falando:
– Só é preciso aguardar mais um pouquinho porque neste exato momento tá liberando um leito. E aí? Pronto para dar entrada na U.T.I.?