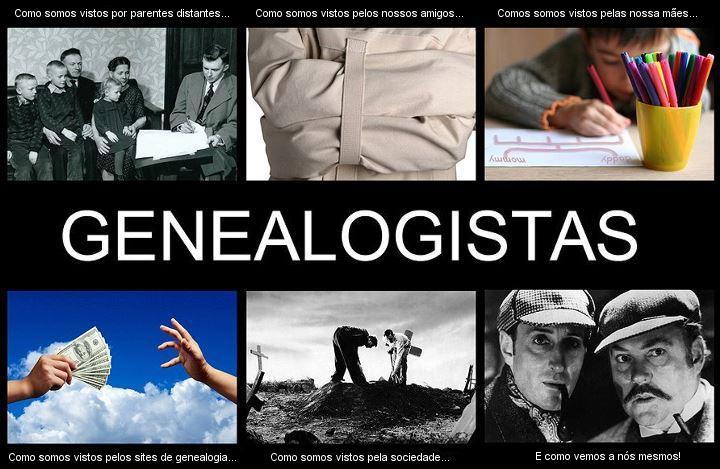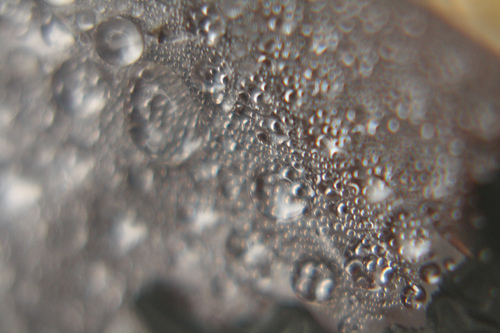![]() (…) Pois ouvi uma voz e cheguei à janela. Era uma jovem que passava para me dizer bom dia; vai à praia. Entrou, sentou-se; tivemos uma rápida conversa banal. É moça, bela, simples; é mais conhecida que amiga. Temos uma espécie de amizade distraída, fraca, suave. Quando se foi, cheguei à janela, e acompanhei-a com os olhos até a esquina. Ela não sabia que estava sendo vista. Andava com seu passo natural, e não se voltou. Ia pensando suas coisas. Comoveu-me. Não sei por que seus saltos altos me comoveram, enquanto andava, e assim também o leve movimento de seus cabelos. Seria despropositado dizer-lhe a mínima palavra de ternura, hoje, amanhã, ou nunca. Não podemos recolher o brilho do lombo elástico de uma onda e fazer um discurso ao mar, acaso podemos? Quando subimos aquela capoeira estorricada, entre carvões de troncos, ao sol ardente, antes de pegar o caminho do outro lado do morro, paramos um instante sob uma árvore qualquer; e então uma brisa vinda dos morros passou em nossa cara suada. Temos um vago sentimento de bênção; a sombra, a leve mão da brisa. Mas seria absurdo dizer: muito obrigado. Na verdade, falamos muito pouco, embora, nos botequins, levemos horas a tagarelar. No fundo somos calados; para a ternura e para a ofensa. Como poderia dizer a essa moça que me comoveu seu corpo de breves ancas andando sobre os saltos altos; ou que o leve movimento de seus cabelos castanhos me fez bem.
(…) Pois ouvi uma voz e cheguei à janela. Era uma jovem que passava para me dizer bom dia; vai à praia. Entrou, sentou-se; tivemos uma rápida conversa banal. É moça, bela, simples; é mais conhecida que amiga. Temos uma espécie de amizade distraída, fraca, suave. Quando se foi, cheguei à janela, e acompanhei-a com os olhos até a esquina. Ela não sabia que estava sendo vista. Andava com seu passo natural, e não se voltou. Ia pensando suas coisas. Comoveu-me. Não sei por que seus saltos altos me comoveram, enquanto andava, e assim também o leve movimento de seus cabelos. Seria despropositado dizer-lhe a mínima palavra de ternura, hoje, amanhã, ou nunca. Não podemos recolher o brilho do lombo elástico de uma onda e fazer um discurso ao mar, acaso podemos? Quando subimos aquela capoeira estorricada, entre carvões de troncos, ao sol ardente, antes de pegar o caminho do outro lado do morro, paramos um instante sob uma árvore qualquer; e então uma brisa vinda dos morros passou em nossa cara suada. Temos um vago sentimento de bênção; a sombra, a leve mão da brisa. Mas seria absurdo dizer: muito obrigado. Na verdade, falamos muito pouco, embora, nos botequins, levemos horas a tagarelar. No fundo somos calados; para a ternura e para a ofensa. Como poderia dizer a essa moça que me comoveu seu corpo de breves ancas andando sobre os saltos altos; ou que o leve movimento de seus cabelos castanhos me fez bem.![]()
“Não mais aflitos”
Rubem Braga